Precisamos falar sobre a morte
- Início
- Clipping
- Entrevistas
- Precisamos falar sobre a morte
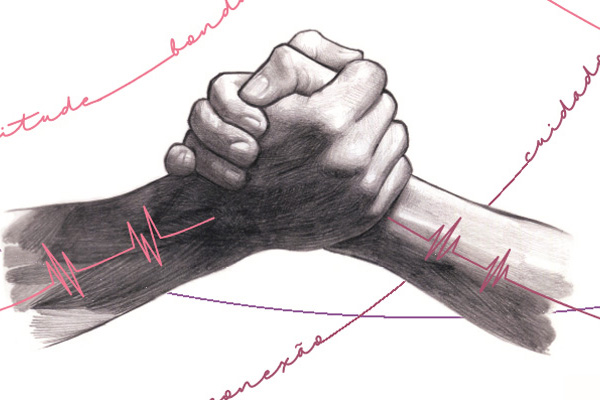
Dra Ana Claudia Quintana Arantes concedeu entrevista a Ana Holanda, da Revista Vida Simples, e falou sobre como conversar sobre a nossa finitude é essencial para uma vida mais plena e verdadeira.
Leia a entrevista completa:
“A morte me ensina muito sobre a vida.” A médica paulista Ana Claudia Quintana Arantes adora dizer isso. Geriatra, especializada em cuidados paliativos, ela acompanha os últimos dias de pacientes terminais, pessoas que estão sem perspectiva de cura e cujo organismo não responde mais aos tratamentos. Na sua rotina, Ana Claudia ajuda a minimizar a dor física e o sofrimento nesse momento delicado e acompanha seus pacientes até o último suspiro. Seu trabalho rendeu uma palestra sobre a morte ou “um dia que vale a pena viver”, no TEDxFMUSP, conferência que tem como objetivo espalhar boas ideias. Foi por meio dessa apresentação, que pode ser vista no YouTube, que foi convidada para escrever um livro, cujo lançamento deve ocorrer em 2016. Ela também faz parte do quadro de professores da School of Life de São Paulo, onde dá aulas sobre como lidar com a morte e ministra cursos intensivos, em espaços diversos, para estudantes de medicina ou gente leiga, como eu e você. Ana Claudia acredita que só temos a ganhar quando nos abrimos para falar sobre a fi nitude da vida. “Somos preparados para ser engenheiros, mas não para nos relacionarmos, para lidar com a frustração, ou mesmo para morrer”, acredita. VIDA SIMPLES abriu espaço para essa conversa tão necessária. E, sim, Ana Claudia está certa: falar sobre a morte é olhar para a vida.
Por que você foi estudar o controle do sofrimento?
Porque, na faculdade, eu só aprendia sobre a doença. Mas tem algo que corre junto que é o sofrimento. No meu curso de medicina, as pessoas falavam que eu não poderia ter contato com pacientes porque sofria junto. E eu fazia isso porque não sabia como ajudar. Quando aprendi o que poderia fazer (anos depois, na especialização em cuidados paliativos), fi cou fácil. Hoje, não vou mais pro fundo do poço. Mas na faculdade era difícil fi car ao lado dos pacientes, porque ninguém se importava com isso. E quem se importava era considerado fraco.
O que aprendeu ao lidar com esse sentimento?
Aprendi que talvez a gente não consiga tirar completamente o sofrimento do outro. Mas o fato de você acolher faz com que fi que mais tranquilo de ser vivenciado. A pior forma de você lidar com o sofrimento é negando sua existência. Quando o paciente percebe que o médico realmente se importa com seus sentimentos, isso reduz a solidão interna. Só que a maior parte dos médicos acredita que, nesse estágio (os dias que antecedem morte), se encerra o acompanhamento. O cuidar é mais do que curar, mas acompanhar sem abandono.
Como é esse acompanhamento?
Em geral a família me procura porque alguém do núcleo, um pai por exemplo, está com um câncer avançado, e os médicos não olham para o sofrimento deles (paciente e família). Quando começo a perguntar do que o paciente gosta, do que não gosta, do que tem medo, é como se, de repente, a família tomasse consciência de que aquela pessoa existe. Chega a ser uma epifania, porque todos voltam a se recordar que aquele familiar tem uma história que foi sequestrada pela doença. E meu papel é devolver esse espaço a ela. E como você faz isso? Aliviando a dor, fazendo a pessoa dormir bem, ouvindo seus medos, inclusive o de morrer. Como as pessoas, em geral, não dão espaço para que os medos sejam ditos, eles só vão aumentando. Quando eu coloco tudo na mesa de uma maneira clara, tranquila, objetiva, mostrando cada uma das partes que precisam ser valorizadas e cuidadas, a família me diz: “Poxa, parece que vai ser mais fácil do que está sendo”. Sempre falo para os meus alunos que a doença está no resultado do exame. É aquilo e não vai mudar. Mas o sofrimento é absolutamente único.
O acolhimento dos medos vale para qualquer doença, seja um câncer ou uma demência?
Mesmo as pessoas com demência não deixam de estar lá. Ninguém é um barco à deriva. Se sou sua irmã e estou com uma doença neurológica, talvez nos seus olhos, na sua voz, eu de repente me encontre. A demência é encantadora nesse aspecto. Não no sentido de bonito, mas porque é misteriosa. Tem um momento em que acontece uma conexão, e nesse instante se estabelece uma possibilidade de comunicação. Quando eu tenho um paciente que está num quadro demencial, como eu vou tratar dele ou cuidar da família? É difícil lidar com a ausência de história de futuro, porque não existem mais planos em comum. Mas ainda existe uma história, um passado compartilhado, do qual o paciente faz parte. E é isso que eu tento fazer com que a família não deixe morrer. A pessoa não deixa de estar ali. Só que ela está ali de outro jeito.
A maneira como você se relaciona com seus pacientes não me parece muito diferente da forma como nos relacionamos com a vida. A gente também não olha para o outro, nem fala sobre os medos.
Está tudo conectado. Na medida em que você se protege, se isola tanto da dor quanto da alegria e se distancia de si mesmo. Só que precisamos do outro para nos descobrirmos. É no encontro que conhecemos uma nova forma de ver a vida. E dessa maneira as pessoas se transformam. Faço isso todos os dias com minha família e pacientes. Percebo, no entanto, que atualmente as pessoas se protegem demais, não gostam de expor fraquezas e dor. Existe o receio do julgamento de serem consideradas fracas. No fi nal, vivemos em pequenas bolhas de impressões sobre os outros: você pensa que eu sou assim e vice-versa, e a gente não partilha.
Como decidiu ser médica?
Ainda criança. A minha avó tinha uma doença vascular grave. Ela tinha feridas nas pernas que doíam demais e eram tratadas por um médico, o Dr. Aranha. Eu tinha 5 anos. Quando ele chegava, eu via uma fi gura angelical entrando. Ele tinha os cabelos brancos que cheiravam a gumex. Ele examinava a minha avó e eu fi cava olhando de longe. Ela falava sobre suas dores e ele prestava atenção. Olhava os curativos, deixava receitas e ia embora. E, quando saía, havia uma nuvem de paz no ambiente. Aquilo era cuidado paliativo. Ele aliviava a dor dela só de visitá-la. Ela parava de gemer, dormia bem por algumas noites e minha mãe também fi cava mais tranquila. Dr. Aranha enchia nossa casa de esperança.
Para você, o que é a morte?
É um momento sagrado. Talvez mais do que nascer. Falar sobre a morte não é trazê-la para perto, mas uma chance de você avaliar a maneira como está vivendo. Costumo dizer que tem gente tão anestesiada – não olha para si, para o sofrimento – que só falta morrer de fato. São como zumbis existenciais, que vivem uma morte emocional. Gente que se afasta da família, não busca sentido na vida, não reflete sobre quem é nesse universo e não se importa com a sociedade, o planeta.
O que você aprendeu lidando com a morte?
Aprendi a viver. Eu vejo muita gente, todos os dias, no fi nal da vida. E, nesse instante, as pessoas fi cam muito lúcidas sobre o que importa. A morte tira o véu da mentira sobre a vida. E a pessoa deixa de lado o que é bobagem e ilusório. Você quer dizer que ama, então expressa isso e não fi ca preocupado com o que os outros vão pensar a respeito. Afi nal aquela é a sua vida – e ela está acabando. Então você demonstra mais afeto, reconhece seus erros.
Você aplica isso na sua vida?
Direto. Para você fazer esse trabalho, tem que ter integridade. Não estou falando no sentido de ser uma pessoa boa. Mas “o que eu digo para você (para a minha paciente) tem que valer pra mim”. Eu posso ser uma excelente oncologista, mas talvez eu não tenha câncer, então não me aproximo de você. Mas eu sei que um dia vou morrer. Então eu olho para o abismo da mesma perspectiva que meu paciente. E daí ele percebe se estou falando a verdade. Acompanhei um caso assim de perto. Eu estava ao lado de uma paciente, que era também uma amiga. A oncologista dela entrou no quarto e disse que estava otimista depois de ver os exames, que logo poderia até fazer aquela viagem desejada. Só que isso não tinha a menor chance de acontecer. Minha amiga estava com câncer havia nove anos, já tinha passado por todos os tratamentos e estava numa contínua progressão de outras doenças. Quando a médica foi se despedir, começou a chorar, se acalmou e saiu. Minha amiga me disse: “Ana, você precisa conversar com ela. Eu vou morrer. Ela sabe disso?”. A médica contou tanta mentira que não suportou se despedir da paciente que amava. Os médicos não sabem fazer cuidados paliativos e daí a relação que se estabelece quando a morte está próxima, em geral, é distante e triste.
É possível passar por esse momento de uma maneira diferente?
O Brasil é um dos piores países para se morrer. A Inglaterra, por exemplo, é o melhor. Porque existe uma cultura que protege cada um de seus cidadãos. O provedor do cuidado paliativo não é o governo, nem a instituição de saúde; é a caridade. Lá eles respeitam e validam o sofrimento. E existe um sistema para que as pessoas sejam cuidadas e amparadas na fase que antecede a morte. É tudo feito por doação. E é o melhor sistema, com médicos que passaram por uma ótima formação.
Podemos acolher melhor as pessoas no leito de morte?
Esse é meu projeto. E para mudar a forma como as pessoas pensam e encaram essa fase da vida é preciso ir para as escolas. Não a faculdade de medicina, mas as de ensino médio, e introduzir nas aulas de fi losofi a um capítulo inteiro sobre a morte. Porque a morte faz parte da nossa vida. E, se você tem a consciência da sua fi nitude, não vai esperar o momento final para se dar conta de tudo que deixou para trás, das suas desilusões. E talvez dessa maneira as pessoas fi quem menos doentes também.
ANA CLAUDIA QUINTANA ARANTES fez medicina na USP, residência em clínica médica, geriatria e gerontologia. E se especializou em cuidados paliativos. Fundou a ONG Casa do Cuidar, que promove cursos de cuidados paliativos para profi ssionais de saúde, e dá aulas sobre como lidar com a morte. É uma entusiasta da vida e mãe de Maria Paula e Henrique.
solicitação de imprensa:
[email protected]
contato para palestras:
[email protected]
atendimento domiciliar por meio da Casa Humana:
(11) 4210-4242
[email protected]
Todos os direitos reservados © ACQA • Política de Privacidade • Política de cookies • Produzido com carinho pelo Estúdio Teca